Accountability e Transparência — O Direito a Explicações
Quando se fala em transparência nos sistemas algorítmicos, a ideia costuma parecer imediatamente positiva: com mais transparência e clareza, dá a impressão de que a consequência direta é mais confiança. Mas, depois de mergulhar em alguns textos fundamentais sobre o tema, percebi que a questão é bem mais ambígua. A transparência pode, sim, ter um efeito emancipador, mas também pode ser limitada, distorcida e até instrumentalizada como estratégia de poder.
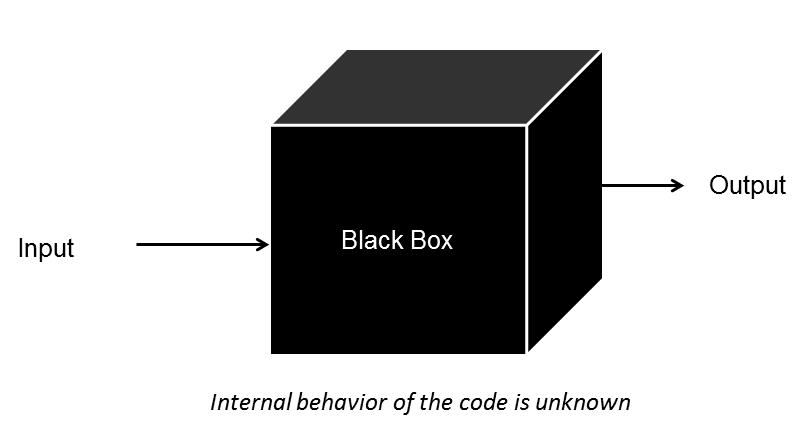 O algoritmo como caixa-preta: visível por fora, opaco por dentro
O algoritmo como caixa-preta: visível por fora, opaco por dentro
A promessa iluminista e seus limites
No artigo de Ananny e Crawford, a transparência aparece em sua origem histórica como um ideal herdado do Iluminismo, baseado na premissa de que ver é entender e de que a exposição da informação seria, por si só, libertadora. Com o tempo, porém, essa noção foi sendo tensionada pela prática e acabou se tornando mais complexa. Em vez de um conceito único, passaram a surgir diferentes classificações, como transparência “fuzzy” ou “clara”, accountability forte ou fraca, além de distinções entre processos e eventos, ou entre transparência retrospectiva e em tempo real.
O ponto central é que não existe uma única transparência. Mais do que isso, ela nem sempre cumpre aquilo que promete. Dependendo de como é implementada, pode gerar sobrecarga de informação, criar binários artificiais ou ameaçar a privacidade. Em alguns casos, pode até reforçar modelos neoliberais, ao produzir a sensação de que “abrir” sistemas é suficiente, quando, na prática, isso não resulta em relações mais confiáveis. Tornar informações visíveis, por si só, não garante confiança, que depende de interpretação, contexto e das relações de poder envolvidas.
Essa leitura me levou a uma conclusão importante: isoladamente, a transparência não é suficiente. É necessário falar também de responsabilidade.
Transparência não é sinônimo de responsabilidade
 Abrir a caixa-preta não garante que saibamos interpretá-la
Abrir a caixa-preta não garante que saibamos interpretá-la
Foi nesse ponto que a discussão sobre accountability passou a fazer mais sentido para mim. O que importa não é apenas abrir o código ou tornar dados acessíveis, mas assumir a responsabilidade pelo que esse código e esses dados produzem no mundo. Quem desenha sistemas algorítmicos acaba sendo responsável pelas escolhas de design feitas ao longo desse processo e pelos impactos sociais que essas escolhas geram, ainda que essa responsabilidade nem sempre seja explicitada.
Jenna Burrell, em seu artigo “How the machine ‘thinks’: Understanding opacity in machine learning algorithms”, descreve três tipos de opacidade que podem persistir mesmo em sistemas apresentados como transparentes: a opacidade intencional, quando informações são deliberadamente ocultadas; a opacidade técnica, quando falta conhecimento especializado para compreender o sistema; e a opacidade de escala, quando a complexidade cresce a ponto de inviabilizar a interpretação.
Nos dois primeiros casos, as soluções parecem mais diretas: abrir o código (open source) e investir em educação. Existe uma preocupação recorrente de que a abertura de sistemas aumentaria sua vulnerabilidade, partindo da ideia de que segurança depende do sigilo do código. No entanto, como aponta Burrell, essa lógica é frágil: vulnerabilidades existem independentemente de o sistema ser aberto ou fechado, e a abertura permite auditoria, escrutínio técnico e correções mais rápidas. Nesse sentido, transparência técnica só faz sentido quando acompanhada de alfabetização algorítmica, para que diferentes atores possam, de fato, interpretar, questionar e avaliar esses sistemas.
O terceiro caso, o da escala, é o mais desafiador. À medida que mais dados são incorporados, os modelos tendem a se tornar mais precisos, mas também mais difíceis de compreender. Burrell sugere alternativas que vão desde a limitação do uso de machine learning em contextos críticos até a criação de métricas de discriminação para avaliar impactos. A ideia de métricas me parece particularmente interessante: mesmo sem compreender cada detalhe do modelo, é possível avaliar seus efeitos no mundo real. Ainda assim, sigo achando que, em sistemas que impactam diretamente a vida das pessoas, algum grau de explicabilidade deveria ser obrigatório, mesmo que isso implique custos computacionais maiores.
Entre interpretabilidade e explicabilidade
Essa discussão aparece novamente no artigo de Bibal e colegas, que relaciona o tema à legislação europeia. Os autores diferenciam interpretabilidade — quando o próprio modelo é compreensível, como no caso de árvores de decisão — e explicabilidade, que envolve o uso de ferramentas externas para traduzir modelos do tipo “caixa-preta”.
Nesse trabalho, a explicabilidade não é tratada como um atributo binário, mas como um espectro. Os níveis vão desde a identificação das features mais relevantes até a justificativa completa de uma decisão específica. Essa gradação deixa claro que, em determinados contextos, especialmente jurídicos e administrativos, não basta que o algoritmo seja preciso. Ele precisa ser justificável com base em fatos, normas legais e argumentos compreensíveis para os afetados por suas decisões.
O passo adiante: responsabilidade social dos algoritmos
O documento do FAT-ML Working Group leva esse debate para um plano mais prático, ao propor princípios como responsabilidade, explicabilidade, acurácia, auditabilidade e justiça. O ponto que mais me chamou atenção foi a proposta de um Social Impact Statement: um relatório que acompanharia cada sistema algorítmico, avaliando seus impactos desde o design até depois do lançamento.
A ideia lembra relatórios de impacto ambiental, mas aplicados ao contexto digital. Se já consideramos natural avaliar os efeitos sociais e ambientais de grandes obras de infraestrutura, faz sentido questionar por que sistemas algorítmicos, que também tomam decisões relevantes sobre vidas humanas, muitas vezes escapam desse tipo de escrutínio.
Transparência como começo, não como fim
Depois de atravessar esses textos, fiquei com a convicção de que tratar a transparência como um fim em si mesmo é insuficiente. Sem mecanismos claros de responsabilidade, explicabilidade e avaliação de impactos, a simples abertura de sistemas corre o risco de se tornar apenas simbólica. Mais do que olhar para dentro dos modelos, é necessário entender como eles operam em contextos sociais específicos, como decisões são distribuídas entre humanos e sistemas técnicos, e quem arca com as consequências dessas decisões.
Algoritmos incorporam escolhas feitas ao longo de seu desenvolvimento e implantação, e essas escolhas produzem efeitos concretos. Abrir a caixa-preta pode ser um passo importante, mas só ganha sentido quando há estruturas institucionais capazes de responder por esses efeitos, questioná-los e, quando necessário, revisá-los. Nesse cenário, a transparência deixa de ser um objetivo isolado e passa a funcionar como parte de um arranjo mais amplo de responsabilização.
Referências
- Ananny M and Crawford K, Seeing without Knowing: Limitations of the Transparency Ideal and Its Application to Algorithmic Accountability. New Media & Society. Disponível em: "http://mike.ananny.org/papers/anannyCrawford_seeingWithoutKnowing_2016.pdf
- Burrell J., How the machine “thinks”: Understanding opacity in machine learning algorithms. Big Data & Society.
- Bibal A et al., Legal Requirements on Explainability in Machine Learning. Artificial Intelligence and Law. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s10506-020-09270-4
- AT-ML Working Group, Principles for Accountable Algorithms and a Social Impact Statement for Algorithms. Disponível em: http://www.fatml.org/resources/principles-for-accountable-algorithms